

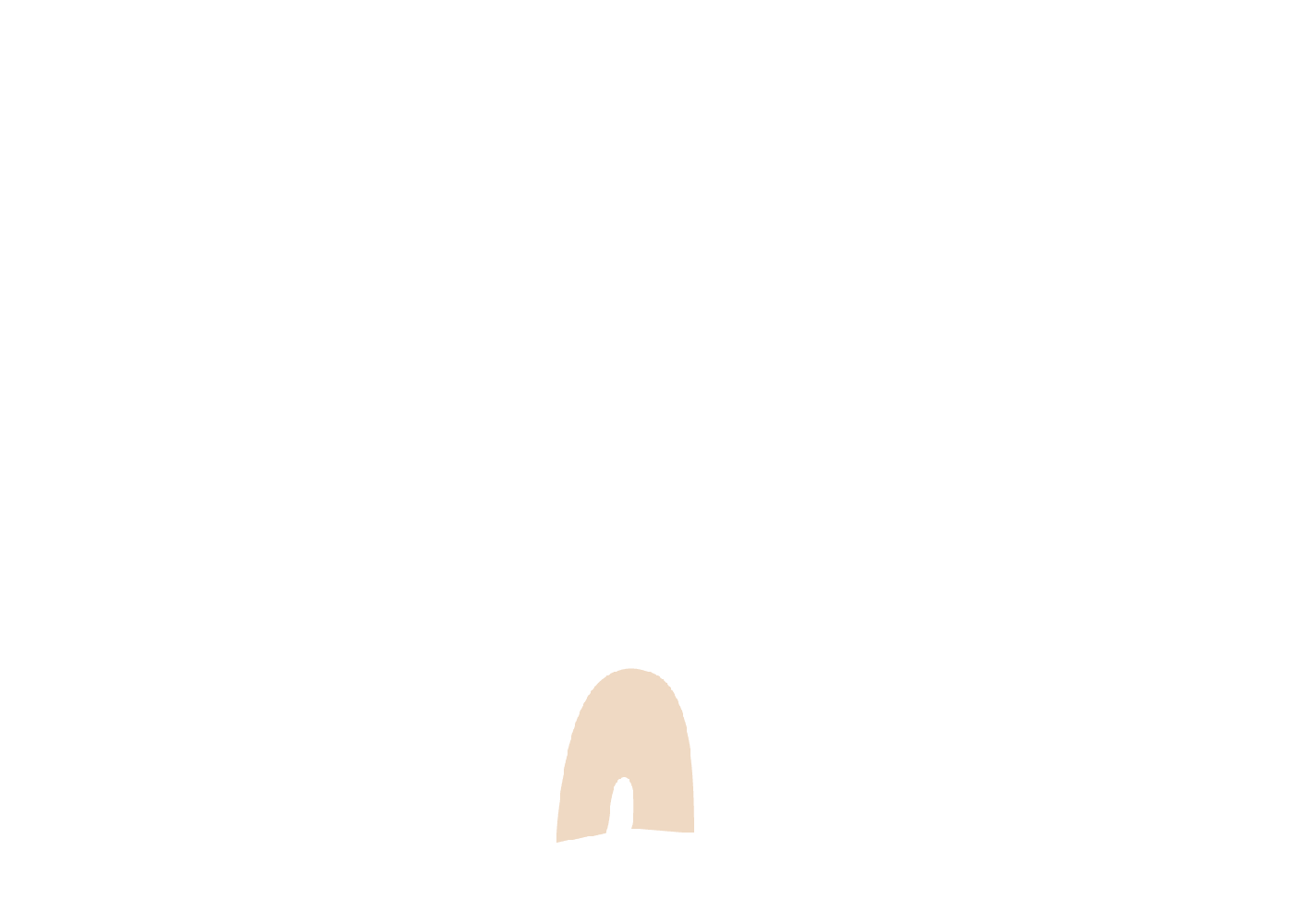

E de repente, a vingança heterotópica de Foucault como única alternativa ao espaço social, a internet como único espaço assético, indemnização da época, simulacro de convívio, geografia mental, física e humana de todos os lugares, não-lugares, gestos, objetos e indivíduos disfuncionalizados e desterritorializados [riscar o que sempre foi], ao longo da possível penúltima crise da mitologia antropocêntrica (antes da ecológica).
Seria difícil imaginar em 2000 que o apocalipse não seria um bug do ecrã, antes visto através de um. O virtual como um imenso campo de refugiados primeiro-mundistas, migrantes económicos do teletrabalho; ligados ao mundo – isolados de ser, vítimas patologicamente entediadas da guerra contra um nojo-branco.
Curiosa ou previsivelmente, o Google Trends expressa graficamente que nunca na história do motor como agora, as expressões “normal” e “normalidade” foram objeto de busca, sugerindo uma ressaca virtual e a perda individual da noção de distância entre a ideia do que aquelas sejam, e a experiência real.
Mas se duas pessoas googlam a expressão “normal”, é certo que em cada ecrã o algoritmo devolve um património pessoal chapado de representações auto-confirmativas dos nossos delírios de determinação do normal do outro.
O consenso em torno da interferência da distância na sensibilidade, confunde estamos todos juntos com a reposição do lugar predestinado a que pertence cada um? – Se tudo correr bem, tudo ficará na mesma (?)
Princípio egoísta do normal: como substantivo interessa a todos; como adjetivo não tem interesse nenhum. Até que ponto o convívio com a norma nos impede de desapegar daquilo em que o pior que nos pode acontecer é o regresso à normalidade?
Mas é também nos modos normais de proximidade sem intimidade do convívio digital, que a criação e fruição do objeto artístico, então sobredimensionado para o meio, periga – iminentemente o caso da escultura, da dança, do teatro, ou de uma pintura sem formato –, afiliadas na economia dos conteúdos (interatividade antes da compreensão; interesse como ponderação de likes; audiências por públicos), exigindo expressões que superem os dialetos excitados da eterna novidade das coisas.
Se até aqui o consumo das artes era animado por escapismo ou exasperação de um tempo ocioso reorientando para a produção de sentidos, a sociedade do cansaço[1] traduz o seu estado de emergência no dever de as artes se apresentarem como uma especulação da normalidade, exigindo que o insuportável senso de tédio e improdutividade, se legitime por possibilidades virtuais ilimitadas de criação forçada e de participação, numa corrida ao Hino da Pandemia.
Será que um GIF continua a rodar quando ninguém está a ver?
Abstrair ou distrair?
É ver para querer. A crença residual no único Ente omnipotente e omnipresente que concorre com o ascético divino no objetivo de salvar-nos de nós próprios: o Wi-Fi.
E afinal, porque não adotar para sempre esta normalidade possível, agora que “realidade virtual” é um pleonasmo, finalmente superámos espaço e corpo, e os processos intercalares invisíveis da criação dificilmente sobrevivem à deliberação coletiva do interesse próprio e do sentido operativo da arte?
Agora que curadoria são dez janelas do browser abertas e uma folha de excel, enquanto espero que o meu novo dono de quatro patas me leve a passear.
Ensaiando quaisquer propriedades emergentes desta subjetividade digital[2] em funções, a presente seleção debruça-se sobre artistas e trabalhos que ora convertem a condição em estados da matéria (Isabel Cordovil, João Madureira); desafiam a imaterialidade dos suportes de trabalho (como na fotografia de Beatriz Banha ou nas fotocópias de um grito de João Rosa Narciso); exploram a forma como primeiro e último reduto da memória (José Sottomayor, André Costa); candidatam o hábito ao rito (Mariana Malheiro, Miguel Sousa); questionam o espaço como medida da liberdade (Ana S. Moura, Patrícia Canhoto); o tédio como Princípio da empatia (Mafalda Oliveira Martins, Nuno Oliveira); ou suspendem a presença como mediadora do conhecimento e do instinto do real (Francisco Trêpa).
Abandonando o visitante (user?Espectador?) ao scrolling, comprometemo-lo com a distância entre as possibilidades do seu horizonte de expectativa virtual e a nostalgia do contacto, especulando a utilidade e vulnerabilidade do corpus, da reprodutibilidade técnica e de mecanismos de representação sitiados na condenação de viver para sempre – no presente.
Esta exposição esteve para se intitular “Deus enlouquece primeiro aqueles a quem quer destruir (Eurípedes, IV a.C.)” e “Quem feio ama, bonito lhe parece”.
duarte amado
[1] Byung-Chul Han.
[2] Fraseando José Gil.
Seria difícil imaginar em 2000 que o apocalipse não seria um bug do ecrã, antes visto através de um. O virtual como um imenso campo de refugiados primeiro-mundistas, migrantes económicos do teletrabalho; ligados ao mundo – isolados de ser, vítimas patologicamente entediadas da guerra contra um nojo-branco.
Curiosa ou previsivelmente, o Google Trends expressa graficamente que nunca na história do motor como agora, as expressões “normal” e “normalidade” foram objeto de busca, sugerindo uma ressaca virtual e a perda individual da noção de distância entre a ideia do que aquelas sejam, e a experiência real.
Mas se duas pessoas googlam a expressão “normal”, é certo que em cada ecrã o algoritmo devolve um património pessoal chapado de representações auto-confirmativas dos nossos delírios de determinação do normal do outro.
O consenso em torno da interferência da distância na sensibilidade, confunde estamos todos juntos com a reposição do lugar predestinado a que pertence cada um? – Se tudo correr bem, tudo ficará na mesma (?)
Princípio egoísta do normal: como substantivo interessa a todos; como adjetivo não tem interesse nenhum. Até que ponto o convívio com a norma nos impede de desapegar daquilo em que o pior que nos pode acontecer é o regresso à normalidade?
Mas é também nos modos normais de proximidade sem intimidade do convívio digital, que a criação e fruição do objeto artístico, então sobredimensionado para o meio, periga – iminentemente o caso da escultura, da dança, do teatro, ou de uma pintura sem formato –, afiliadas na economia dos conteúdos (interatividade antes da compreensão; interesse como ponderação de likes; audiências por públicos), exigindo expressões que superem os dialetos excitados da eterna novidade das coisas.
Se até aqui o consumo das artes era animado por escapismo ou exasperação de um tempo ocioso reorientando para a produção de sentidos, a sociedade do cansaço[1] traduz o seu estado de emergência no dever de as artes se apresentarem como uma especulação da normalidade, exigindo que o insuportável senso de tédio e improdutividade, se legitime por possibilidades virtuais ilimitadas de criação forçada e de participação, numa corrida ao Hino da Pandemia.
Será que um GIF continua a rodar quando ninguém está a ver?
Abstrair ou distrair?
É ver para querer. A crença residual no único Ente omnipotente e omnipresente que concorre com o ascético divino no objetivo de salvar-nos de nós próprios: o Wi-Fi.
E afinal, porque não adotar para sempre esta normalidade possível, agora que “realidade virtual” é um pleonasmo, finalmente superámos espaço e corpo, e os processos intercalares invisíveis da criação dificilmente sobrevivem à deliberação coletiva do interesse próprio e do sentido operativo da arte?
Agora que curadoria são dez janelas do browser abertas e uma folha de excel, enquanto espero que o meu novo dono de quatro patas me leve a passear.
Ensaiando quaisquer propriedades emergentes desta subjetividade digital[2] em funções, a presente seleção debruça-se sobre artistas e trabalhos que ora convertem a condição em estados da matéria (Isabel Cordovil, João Madureira); desafiam a imaterialidade dos suportes de trabalho (como na fotografia de Beatriz Banha ou nas fotocópias de um grito de João Rosa Narciso); exploram a forma como primeiro e último reduto da memória (José Sottomayor, André Costa); candidatam o hábito ao rito (Mariana Malheiro, Miguel Sousa); questionam o espaço como medida da liberdade (Ana S. Moura, Patrícia Canhoto); o tédio como Princípio da empatia (Mafalda Oliveira Martins, Nuno Oliveira); ou suspendem a presença como mediadora do conhecimento e do instinto do real (Francisco Trêpa).
Abandonando o visitante (user?Espectador?) ao scrolling, comprometemo-lo com a distância entre as possibilidades do seu horizonte de expectativa virtual e a nostalgia do contacto, especulando a utilidade e vulnerabilidade do corpus, da reprodutibilidade técnica e de mecanismos de representação sitiados na condenação de viver para sempre – no presente.
Esta exposição esteve para se intitular “Deus enlouquece primeiro aqueles a quem quer destruir (Eurípedes, IV a.C.)” e “Quem feio ama, bonito lhe parece”.
duarte amado
[1] Byung-Chul Han.
[2] Fraseando José Gil.
